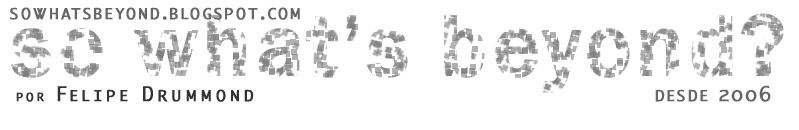GUIA DE LEITURA
(as saudades da minha escola)
(o retrato de um coração partido)
(os sonhos nos enganam...)
(ou "elucubrações esperançosas")
(trago a pessoa amada em três dias)
(a nostalgia do que não tive)
segunda-feira, 27 de dezembro de 2010
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
terça-feira, 2 de novembro de 2010
ué mas eu não sei
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
desaprendi a curtir uma fossa
sexta-feira, 3 de setembro de 2010
sábado, 14 de agosto de 2010
o futuro é auspicioso
A-VENTURA DE NOVEMBRO
(nota: estou abrindo o baú)
(DEZEMBRO/2008)
A ventura de novembro mais foi uma aventura, ou, talvez, um devaneio do ingrato acaso, ao qual hoje rendo minhas homenagens por tamanha engenhosidade.
Fui flamenguista por um mês. E isso já diz muita coisa, embora nada houvesse de futebol no meio disso.
O prólogo da aventura se desenrolou num armazém em clima de luto pós-eleitoral que de pronto se reverteu tão logo foram despertadas as paixões íntimas, introvertidas, mas controversas. E depois, o encontro casual nos pirineus franceses da praia rubro-negra, lá do décimo andar, em que tudo era branco e macio sob uma bandeira do Brasil, com dores nas costas e olhares que se prolongavam em não quererem se desencontrar, pedindo o que depois, não tão depois, viria.
Um não tão depois que durou pouco menos que uma semana, algum tédio, e muita gastação de francês e cultura de cinema Estação. E tudo começou a acontecer numa sexta em que quase chovia, ainda que ninguém quisesse ir à praia ou à piscina, coisa de quem anda de mal com São Pedro, sempre a lançar suas maldições meteorológicas.
Uma sexta que não teve cinema no Estação, mas a distância das cadeiras azuis nocivas à coluna, ah minha coluna, e os papos alheios que envolviam viuvez, barcos e o tempo. Uma distância que foi se superando quando as mãos se aproximaram, quando a conversa convergiu e quando os olhares novamente se encontraram não mais querendo se desencontrar, exceto por uma vergonha boba, daquelas bem singelas, que encerram os sentimentos mais sutilmente gostosos que o ser humano gosta de viver, o que nos distrai e nos alimenta o inquieto comboio de cordas.
Por fim, e era só o começo, os olhos novamente se encontraram, sintonizaram-se como antenas da alma e fecharam. Fecharam porque se fizeram prescindíveis quando tudo o mais já estava junto, juntinho, e os óculos se encostavam, se tocavam, se estalavam e se embaçavam, como uma metonímia para dois intelectos que convergiam em carne. E dali foram para um céu de diamantes cafeinado.
O domingo estava de um sol maravilhoso, porque ninguém levou roupa de banho. A contradição estava no ar condicionado, na biblioteca e nos livros, que se venceram pelos sucos, pela pizza, pelo calor do outro, pelas obras da lanchonete, e pelo centro preto e seu sofá cultural, muito melhor, embora menos simbólico, que o banquinho de madeira duvidosa dali não muito distante.
Os dias seguintes foram os maravilhosos dias seguintes. Ora chuva, ora sol, algum descontentamento de São Pedro e de outro não tão santo assim. Vivia, sem me dar conta, uma contagem regressiva previamente anunciada, a qual eu ignorei em achando que comigo seria diferente. Uma contagem regressiva rumo a não se sabia quando, que degenerou em não saber como.
As mensagens, as entonações, os olhares, os beijos, os carinhos, os segredos, os "te adoro" e "psius" não ditos, mas sussurrados a um coração efervescente e enfeitiçado... tudo indicava o caminho de uma crescente entorpecedora, capaz de distrair, capaz de, por conta da dedicação exclusiva, fulminar o olhar atento de quem cria, como se a função poética tivesse sido emprestada a mais nobre serventia e em seu lugar entrasse, como mero tapa-buraco, a infrutífera e egoísta função metalingüística.
Os encontros no meio da semana, no corre-corre das semanas de provas, os almoços apressados, a ventania entre os dois grandes prédios anunciando o tempo a mudar... O namoro num dos parques da cidade, num sábado sabático que dormiu pouco para acordar cedo sobre os cacos da sexta que avançou incauta pela madrugada. O namoro nos banquinhos de madeira verdadeira, à sombra de um dia nublado e das árvores que o espírito pueril ousou escalar, sob uma chuva rala e fria que pedia licença poética para cair em tão caloroso momento.
O bolo estava pronto e nele faltava uma cereja. A cereja do pedido em namoro, que eu entendi como ato declaratório quando a todos, e a quem realmente importava, parecia ato constitutivo. A cereja da minha hesitação, que deveria ser posta em cerimônia, em grande momento... no grande momento que não chegou a acontecer. Hesitei porque estava certo demais de que aquilo derradeiramente aconteceria. Inundei-me por essa certeza e acanhei-me pela prudência da muita certeza: estava tão certo que eu duvidei. Foi esse o equívoco? Restará a duvida.
Novembro encaminhava-se para seu final e junto levava minha aventura a seu desgaste. O antepenúltimo dia do mês foi estranho. Era sexta, chovia e algo havia se desencontrado. Havia a gripe, o vírus, o RNA, o DNA e minhas palavras se desencontraram entre a suposta graça da piada e a frustração de uma lembrança.
O penúltimo dia do mês, que era para ser o sábado tão esperado de ir à praia, da praia a que São Pedro legaria todas as bênçãos, foi o dia da espera pela ligação, pela mensagem... o dia da ansiedade enlouquecedora que pôs na cabeça caraminholas como que em prenúncio ao que não muito depois se seguiria, como se "o deserto da espera tivesse cortado os fios".
O último dia de novembro foi o último em que as coisas estiveram bem, ou assim pareceram estar. É como aquelas melhoras súbitas do quadro clínico logo antes da morte. Um cinema, um passeio, um andar juntos sob um sol gostoso e uma brisa fresca, um passeio no aterro à procura dos banquinhos. Quando finalmente se achou um banquinho, dessa vez de pedra, vieram os beijos e os carinhos, que se deixaram constranger pelos olhares alheios, pelos cachorros passeando a esmo e por um batuque bate-lata de projeto social que perturbava os ouvidos e impedia - impediu - de se ouvir no coração do outro o batimento acelerado tuntz-tuntz, a rave cardiológica extasiada chamada paixão. E aí, quem sabe, surgiu a dúvida de se tudo isso ainda existia... é que no fundo pareceu haver só um silêncio.
Entramos em dezembro juntos, no computador. Um olhando a cara do outro, separados por um abismo chamado internet, sob uma certa estranheza que não se explicava. Um olhar perdido, uma palavra que não encontrava eco, um sorriso que não alcançou lugar, um encanto a esmorecer, como se o que se tinha de melhor estivesse escorrendo implacável por mãos fechadas. Fomos dormir, talvez fosse só uma fase.
Em dezembro não haveria mais ventura nem aventura. A segunda-feira de primeiro de dezembro teve cara de hiato: o dia que antecedeu o fim, que antecedeu a terça e nada mais.
E a terça, enfim... a terça em que a velhinha de que mais gostava no meu prédio morreu, o dia em que se completaram vinte anos da morte do meu tio, o dia em que eu armei pela primeira vez uma árvore de natal na vida, numa ironia do destino, do ingrato não-tão-ingrato acaso ao qual eu novamente rendo minhas homenagens.
A terça-feira encerrou o último capítulo e iniciou o epílogo da aventura não mais venturosa: um dia lindo, um passeio lindo... o sal foi até o açúcar. Fingindo-se gringos e destilando nosso francês mais uma vez, fomos às alturas, e lá do alto, tão distante da cidade, dos carros e das pessoas, foi-se vendo o quão distante também estávamos um do outro. De repente, não mais que de repente, as mãos não mais se achavam, os olhares se encontravam e logo se perdiam e as palavras doces não mais reverberavam. O sal fizera-se amargo, azedo, intragável. Depois, um almoço no lugar dos barcos, da viuvez e do tempo. Comi risoto e ela foi nos salgadinhos mistos, então para quê mais o sal? Fui feito redundante.
E depois bateu um sono e uma preguiça de tudo, até de irmos até o banquinho de madeira duvidosa onde tudo havia começado. E aí fomos para os pirineus franceses, de táxi, um ao lado do outro, íamos para o mesmo endereço, mas já trafegávamos caminhos diferentes. Saltamos e caminhamos paralelos, mas separados por um muro invisível, estranho, que instigou a dúvida e culminou na pergunta: "o que aconteceu?" e na resposta: "não sei." E o silêncio. Havíamos chegado e eu esperava que ela subisse para trazer minha mochila que eu preferi não carregar (talvez já soubesse que o dia seria pesado demais) para então poder ir para casa.
Minha mochila veio junto com um pedido de tempo. Um tempo que eu não entendi. Um tempo que não era grandeza primitiva da física e talvez mais fosse uma sutileza literária, um eufemismo para outra coisa que ali não era evidente. Um tempo para resolver toda uma confusão na qual eu não conseguia acreditar. Conversamos brevemente e nos entreolhamos no que não parecia um término, mas um entreato. Seguimos em direções opostas, às vezes olhando para trás.
Nos dias seguintes... ah, deixa para lá. Os dias seguintes já mostravam um dezembro consumado, uma tragédia em que eu não quis acreditar: episódios almodováricos demais para minha hollywoodiana previsibilidade do inusitado e conversas perdidas em um palácio do governo sobre uma situação já tão desgovernada, com direito a batuque bate-lata perdido e a uma curiosa, simultaneamente literal e figurada, pedra no meio do caminho.
Os dias seguintes foram a esperança se esvaindo a cada dia, à medida que o acaso se revelava mais irreverente, ingrato, confuso, louco... ou talvez o louco não fosse o acaso... ou o acaso nada mais fosse do que loucura. Ou nada era verdade. Não sei.
domingo, 8 de agosto de 2010
"PODERIA TER SIDO VOCÊ"
O QUE ESTÁ POR TRÁS DESSES OLHINHOS?

terça-feira, 18 de maio de 2010
DIGLET DIGLET, TRIO TRIO TRIO
sábado, 1 de maio de 2010
caritas et scientia